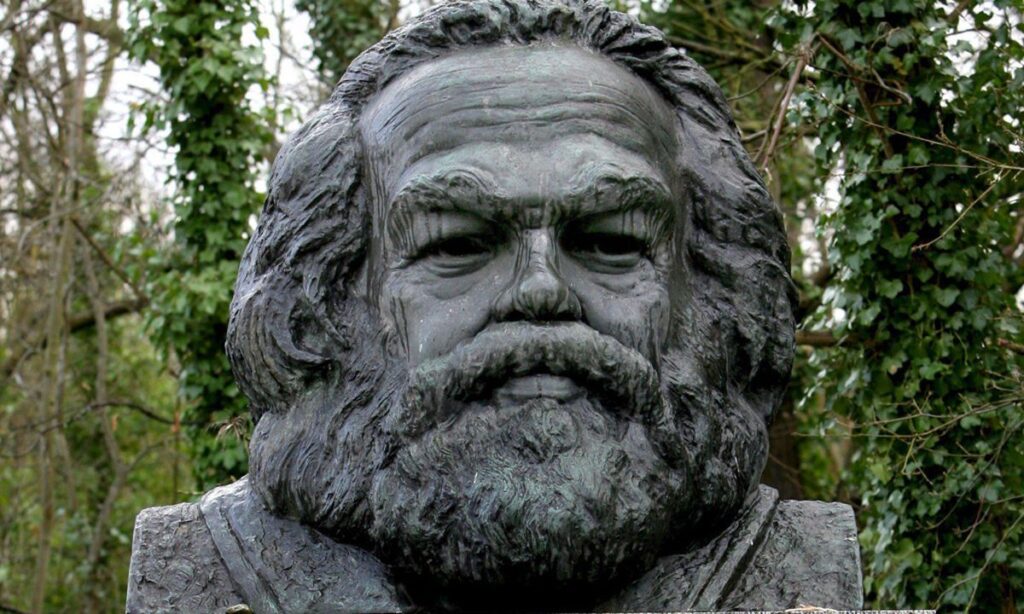Entrevista de Jairus Banaji por Félix Boggio Éwanjée-Épée e Frédéric Monferran. Originalmente em Revue Periode
“Uma esquerda que não leva a teoria suficientemente a sério, que não se imbui dela ao expandir suas fronteiras, será, ao contrário, incapaz de fazer nascer uma cultura e um movimento revolucionário de um novo tipo. Cada um dos dois aspectos (a renovação da esquerda e a da teoria) envolve um ao outro – e, entre eles, coloca-se o problema da “estratégia”. Mas a esquerda radical não será capaz de se recompor por um simples voluntarismo. A condição fundamental para que ela avance e se torne uma força em escala global está no surgimento de novas classes trabalhadoras e no fato de que novas camadas da classe trabalhadora se conscientizem de seu poder coletivo, o que significa ser uma classe social que aspira a transformar a sociedade.”
Ao olhar para suas obras publicadas, nota-se uma ampla variedade de interesses, desde a Teoria da Forma do Valor (“From the commodity to Capital: Hegel’s dialectic in Marx’s Capital”), até as Teorias Críticas do Fascismo (Fascism: Essays on Europe and India) e a historiografia e a teoria histórica marxista (Theory as History). Devemos considerar esses diversos interesses como diferentes intervenções em campos heterogêneos de pesquisa ou há continuidade e sistematicidade em seu trabalho?
A continuidade é simplesmente a da própria teoria marxista. O materialismo histórico, tal como Marx o concebeu, era uma concepção ou campo de pesquisa integrado, não um conjunto de disciplinas separadas. É impossível pensar no capitalismo, por exemplo, em termos puramente econômicos, abstraindo do Estado; ou pensar no estado abstraindo das culturas que condicionam grandes massas de pessoas à aceitação passiva (Sartre diria “aceitação em série”) da autoridade e de todos os valores que ela pressupõe e sustenta. Se Hitler foi possível, foi porque existiu um meio que permitiu sua emergência e seu sucesso (em se tornar a “encarnação” de um “povo” moldado por décadas de sujeição ao nacionalismo, militarismo, etc.). Essa concepção da teoria marxista como uma disciplina essencialmente integrada, se quisermos chamá-la assim, é o que Sartre estava tentando mapear em Questão de Método. Portanto, vejo meu trabalho como uma intervenção unificada em diferentes níveis, em áreas de pesquisa bastante distintas. Por exemplo, para tentar ter uma ideia de onde se situava o capital indiano, eu e um colega – que agora dirige uma federação de sindicatos independentes aqui na Índia – conduzimos em conjunto cerca de 200 entrevistas com pessoas dos setores financeiro e industrial (gerentes de fundos, auditores, diretores de empresas, analistas, etc.). Mas essa intervenção precisava ser estruturada de alguma forma e essa estrutura foi oferecida pelas circunstâncias únicas em que os capitalistas se encontravam então. Eles estavam sendo forçados a discutir a forma como administram seus negócios, seu sistema de governança corporativa. Então fizemos deste o foco, mas o estudo em si e as entrevistas não se limitaram apenas a isso, nós cobrimos uma ampla gama de tópicos, incluindo a forma como as grandes empresas eram controladas (os mecanismos usados para estruturar o controle dos promotores sobre as grandes empresas) e a ameaça que a entrada de empresas estrangeiras no mercado representa para o capital indiano.
Na introdução de Theory as History você estabelece uma distinção entre “relações de produção” e “formas de exploração”. Você poderia desenvolver essa distinção e explicar por que a incapacidade de distinguir entre esses conceitos condena o materialismo histórico ao formalismo?
Relações de produção são todas as relações de um dado modo de produção, incluindo aquelas que pertencem à esfera da concorrência (sob o capitalismo), um assunto que Marx nunca abordou. Marx constrói o Capital em camadas, cada uma das quais se aproxima mais da “realidade” ao incluir determinações inicialmente deixadas de lado. A exploração é o cerne do Volume I porque Marx queria mostrar como o capital emerge em primeiro lugar como uma corporificação fetichizada do trabalho e do trabalho excedente, uma forma transmutada e objetificada de trabalho vivo. Para realizar essa demonstração, Marx precisa começar com o valor, explicar o que é o dinheiro e, então, lidar com o processo de trabalho como um lugar para a produção de valor e mais-valia. Porém, reduzir a riqueza de determinações que pertencem às “relações de produção” a este nível inicial de abstração é como dizer que Marx não precisava escrever o resto d’O Capital, como se ele pudesse simplesmente ter parado no Volume Um. Mas se ele tivesse feito isso, não teríamos ideia do que ele realmente quis dizer com “capitalismo”. Deixe-me enfatizar mais um ponto aqui. Marx (inevitavelmente) identificou o capitalismo com o capitalismo moderno que estava se desenvolvendo rapidamente em sua época. Mas o capitalismo pré-moderno se desenvolveu amplamente em muitas partes do mundo, desde a China sob o Song do Sul até vastos setores do mundo muçulmano, como mostra Valensi em seu brilhante estudo de caso sobre a produção de chéchia em Tunis nos séculos 18 e 19, uma indústria dispersa e puramente doméstica, mas rigidamente organizada e controlada pelo capital. (Ver Revue d’histoire moderne et contemporaine, 1969). Esse é um protótipo do tipo de capitalismo que floresceu nas economias urbanas da idade média e até da antiguidade. Agora, uma vez que tenhamos clareza de que este não é o capitalismo moderno no sentido bem definido por Marx, nenhuma confusão é causada pela caracterização de relações econômicas desse tipo como “capitalistas”. Tampouco se afirma que essas formas de produção impulsionaram o resto da economia. O que se ganha é a consciência de que os trabalhadores têm sido explorados pelos capitalistas por períodos muito mais longos da história do que normalmente imaginamos.
No capítulo 5 de Theory as History (“The fictions of Free Labour”), você argumenta que o trabalho assalariado não representa nenhum “progresso” quando comparado à escravidão ou à servidão e você se baseia na Crítica da razão dialética de Sartre. O que a contribuição de Sartre acrescenta à uma crítica desmistificadora do trabalho assalariado em relação às que foram propostas por Marx em termos de fetichismo, ou por Lukács em termos de reificação?
Não, eu nunca argumentei que o trabalho assalariado não representa nenhum “progresso”, qualquer que seja o significado desse termo. O que eu digo no capítulo a que você se refere é que o trabalho assalariado não é menos coercitivo do que as formas anteriores de dominação do trabalho. A coerção funciona de maneira diferente e, evidentemente, é experimentada de maneira diferente, mas eu discordo da maneira superficial como o trabalho livre/não-livre é entendido e usado politicamente. Em países como a Índia, uma massa muito grande de trabalhadores informais e contratados, especialmente do campo e da comunidade Dalit, vivem uma situação que beira a escravidão, embora não sejam escravos. O progresso que o trabalho assalariado representa, pelo menos na visão ligeiramente otimista de Marx, é que, sob o capitalismo industrial moderno, ele se concentra em vastos espaços de produção e a própria produção educa os trabalhadores, tornando-os combativos e conscientes de sua solidariedade coletiva, de sua força, de seu potencial antagônico não apenas contra o capital, mas também contra a sociedade capitalista como um todo. Em sua obra, Serge Mallet empregou essa visão da classe trabalhadora [1], mas já em sua época (cerca de 100 anos depois de Marx escrever O Capital) essa abordagem o forçou a distinguir entre os diferentes “tipos” de classes trabalhadoras e a deixar de lado setores (como a indústria automobilística de massa) onde a natureza desqualificada do trabalho só permitia formas temporárias de solidariedade, que eram facilmente rompidas por não se basearem em um entendimento orgânico mais amplo da empresa e de como a empresa se inseria na sociedade. Esse foi um grande retrocesso em relação a concepção desenvolvida por Marx nos anos 1860, porque reconhece o potencial revolucionário apenas em um segmento muito particular da classe trabalhadora (trabalhadores em indústrias automatizadas), em parte sob a influência do trabalho de Naville sobre a automação e das visões evolucionistas de Touraine sobre a indústria [2], mas também, é claro, da conjuntura francesa (caracterizada especialmente pelo investimento em formação feito pelas duas grandes federações sindicais) que eventualmente culminou no Maio de 68.
No capítulo 2 (“Modes of Production in a Materialist Conception of History”) e 4 (“Workers Before Capitalism”) de Theory as History, você faz duas afirmações robustas que estão em desacordo com o que você chama de “marxismo vulgar” : você argumenta que as plantations escravistas nos Estados Unidos, longe de incorporarem uma relíquia de um chamado “modo de produção escravo”, eram essencialmente capitalistas, de forma que o modo de produção capitalista não pode ser definido exclusivamente pelo trabalho assalariado. No capítulo 4, você de fato argumenta que o trabalho assalariado era na verdade uma forma difundida de exploração do trabalho na Roma Antiga e deu origem especificamente às demandas e à organização dos trabalhadores assalariados. Para você, então, o que caracterizaria o modo de produção capitalista?
O capitalismo é caracterizado pelo impulso de acumular capital, independentemente da forma específica de dominação do trabalho e da extração do trabalho excedente. Para o capitalista individual, não faz diferença se o trabalhador é livre ou não, se trabalha em casa ou em uma fábrica e assim por diante. Essas decisões são puramente econômicas e técnicas; relacionam-se à questões como custos de produção, disponibilidade de mão-de-obra e se determinado tipo de trabalhador (feminino, domiciliar) é mais adequado para determinado tipo de produção. Neste nível (o do capital individual), até mesmo a construção de “competências” é uma questão subjetiva. No entanto, do ponto de vista do capital social total, a mobilidade do trabalho é obviamente importante porque os capitalistas competem por trabalhadores e o mercado deve permitir que esse processo de concorrência funcione de forma eficiente. A escravidão no mundo moderno (escravidão Atlântica) foi uma criação puramente capitalista, mas o tipo de capitalismo envolvido era, sobretudo, o que Marx chama de capital mercantil. Os fazendeiros do sul dos Estados Unidos estavam, de qualquer forma, em grande dívida com as instituições financeiras do norte, assim como as plantations escravistas cubanas eram inseparáveis das casas mercantis de Havana e dos bancos e corretores estadunidenses aos quais estavam vinculadas.
Recentemente, você se concentrou na análise da financeirização do capitalismo. Para isso, você examinou duas fontes teóricas distintas: em primeiro lugar, os escritos de Marx sobre as Guerras do Ópio e, em segundo lugar, a noção de serialidade de Sartre. Quais são as vantagens e os limites dessas duas abordagens para analisar esse fenômeno contemporâneo?
Minha recente conferência sobre a crise financeira [3] pretendia retificar uma ênfase desproporcional e exagerada presente nos recentes escritos marxistas sobre o capital “produtivo” como se este fosse uma espécie de capitalismo “puro”. É uma tentativa de restabelecer o equilíbrio entre finanças e produção. Isso é feito, em parte, dando ao conceito de “capital fictício” um lugar central na análise. Quando chegamos ao Volume Três do Capital, percebemos que o capitalismo não pode funcionar sem crédito, o crédito é seu fundamento essencial, como nos diz Marx. Uma vez que estejamos convencidos desse ponto, temos que ser capazes de integrá-lo em todas as análises posteriores, e não ignorá-lo! Se o crédito é a base das economias capitalistas modernas, então os mercados financeiros têm um lugar central na acumulação e temos que ser capazes de entender como funcionam. Quanto à noção de serialidade de Sartre, parece-me um recurso que tem o potencial de iluminar de forma rica e sutil a forma como o Estado e o capital conseguem dominar a sociedade, contribuindo assim para a teoria marxista de Estado. Como podemos hoje isolar o capital do Estado ou o Estado da mídia ou a mídia do capital? Quando se admite essas interdependências, toda a análise torna-se mais complexa e precisamos de novas categorias para estruturá-la. Nós temos, de fato, uma teoria marxista do estado capitalista moderno? Os dois estados capitalistas mais poderosos do mundo atual (China e EUA) surgiram de histórias radicalmente diferentes. Isso não impede que ambos sejam materialidades específicas do capital. Quando digo específicas quero dizer simplesmente que a dominação é exercida de maneiras diferentes, de modo que a conexão entre política, ideologia, cultura e capital não reflete um modelo único.
Quando se enfatiza, como você o faz, a variedade de formas de exploração e relações de produção que o capitalismo pode abranger e se nega qualquer validade histórica ao modelo clássico de sucessão de modos de produção (comunismo primitivo, escravidão, feudalismo, capitalismo, socialismo), como teorizar rupturas e saltos qualitativos na história? Em outras palavras: como pensar a transição quando se abandona qualquer tipo de historicismo? E que conclusões estratégicas podemos tirar dessa multilinearização do materialismo histórico?
O que eu nego é uma concepção excessivamente rígida da sucessão dos modos de produção. Ainda que nos limitemos à história da Europa, a “transição” entre o mundo antigo e a idade média foi muito mais complexa do que uma simples passagem da escravidão para a servidão. Houve séculos inteiros nas regiões ocidentais do antigo império romano em que a força de trabalho rural era composta por trabalhadores que não podem ser caracterizados nem como escravos nem como servos, mas que estavam sujeitos a novas formas de dominação consideravelmente coercitivas. Descrevê-los como “transitórios” é injetar uma pesada carga de teleologia em nossa leitura da história. Foi o que Marx disse em sua famosa resposta a Mikhailovsky [4]. E quanto aos setores do Oriente Próximo e do Mediterrâneo que foram conquistados pelos exércitos muçulmanos entre meados e o fim do século VII e o início do século VIII (na Espanha)? Aqui o modelo para os historiadores marxistas é o trabalho de Manuel Acien Almansa, que rejeitou as caracterizações tradicionais e procurou repensar as formações sociais islâmicas de uma maneira completamente original, influenciada, em parte, pela obra de Guichard. A principal vítima de seu empreendimento revisionista é a ideia simplista de “feudalismo” como uma categoria histórica abrangente com uma universalidade quase tão grande quanto a do capitalismo. Esse não é o caso e o tecido da história é muito mais rico, mesmo de um ponto de vista estritamente materialista que trata essencialmente da história social e econômica. É claro que existem “transições”, mas elas não são necessariamente governadas por leis definidas por Marx a respeito do capitalismo e certamente não devem dar um enquadramento teleológico à maneira como entendemos a história ou o materialismo histórico. Para dar um exemplo óbvio, como caracterizamos as importantes mudanças que transformaram tanto a economia soviética quanto a chinesa nas últimas décadas? Se ‘transição’ é uma categoria fundamental de análise, de que tipo de transições estamos falando nesses casos?
Se você leva em consideração uma diversidade de caminhos de transição, o que diferencia sua abordagem de uma noção althusseriana de “articulação dos modos de produção” (uma noção que você parece rejeitar)? E como exatamente você caracteriza a União Soviética e a China? A noção de capitalismo de Estado é relevante nesse caso?
Ao enfatizar a pluralidade de “transições” que caracteriza toda totalização histórica (por exemplo, a emergência do capitalismo que assume formas tão variadas em tempos e lugares diferentes), estou simplesmente me referindo a trajetórias que não podem ser reduzidas a qualquer conjunto de “leis”. Eu certamente não acho que isso tenha algo a ver com “articulação” no sentido estruturalista. Althusser é muito melhor em Aparelhos Ideológicos de Estado do que quando se debruça sobre “modos de produção”. Sobre esse último ponto, ele mal consegue expressar banalidades (‘unidade das forças produtivas e relações de produção’) como as que eram difundidas nos círculos stalinistas do pós-guerra. É surpreendente que o máximo que ele consegue dizer sobre as relações capitalistas de produção é que elas são “simultaneamente” relações capitalistas de exploração. Althusser sequer investigou mais a fundo o sentido desta expressão (“simultaneamente”)! Claramente, ele sentia que pensar em termos de “determinações” do capital seria escorregar para uma totalidade expressiva e conceder demasiadamente aos hegelianos . Mas quando Althusser fala que são relações “simultaneamente” de exploração, ele está efetivamente engajado na complexidade que perpassa todos os três volumes d’O Capital. O principal sintoma da fraqueza teórica de Althusser neste ponto é que ele não diz nada sobre a acumulação, não consegue enxergar o capitalismo de uma forma dinâmica (como leis de acumulação e concorrência). Isso é irônico porque, quando passa a lidar com o Estado, ele faz da reprodução a categoria central. Como eu disse, ele é muito bom quando se debruça sobre o Estado e os aparelhos de Estado e temos muito a aprender com essa parte do seu trabalho.
Quanto à União Soviética e à China, sempre as considerei como “capitalismo de estado”, mas o fiz por convenção. O que eu quero dizer com isso é que essas sociedades estavam tão distantes de ser “pós-capitalistas” de qualquer tipo, quanto mais de um tipo que se movesse em direção ao comunismo (sociedades de “produtores associados”) que pode-se concordar em usar “capitalismo de estado” como a expressão menos apologética para descrever essas sociedades. Mas, embora essa expressão seja válida em um sentido bastante amplo, não é suficiente para compreender essas sociedades. Se o Estado constitui um único capitalista (ou uma multiplicidade de capitalistas combinados), o capitalista também deve ser pensado como um “Estado”. É este segundo aspecto que pode explicar a trajetória das economias capitalistas resultantes das chamadas revoluções “traídas”. A China é particularmente complexa, mas tanto a Rússia quanto a China têm uma longa história de dominação do Estado sobre a sociedade. O que parece estar acontecendo em escala mundial hoje é o último impulso catastrófico do capital para subjugar completamente o campo, não apenas eliminar o campesinato (os vilarejos estão se desintegrando rapidamente na maior parte do mundo, a Índia é um bom exemplo disso), mas transformar o próprio campo em um “momento” da história do capital. Na China isso tem assumido uma forma particularmente marcante porque o Estado é a principal agência do capital nesse ataque, no que Pasolini chamou de “desaparecimento dos vaga-lumes”[5]. O cinema de Jia Zhangke (Still Life, A Touch of Sin, etc.) explora de forma absolutamente impressionante esse movimento colossal de “acumulação primitiva”, e isso ocorre, em parte, porque ele captura esses momentos em um estilo semi-documental. Você adquire uma noção muito melhor de como é o capitalismo na China de hoje, após várias décadas de acumulação e repressão do Estado, do que em muitos textos que simplesmente reiteram os mais rudimentares lugares-comuns da teoria. Nós simplesmente não possuímos categorias para confrontar um capitalismo dessa magnitude!
Qual é a contribuição do Marxismo Ocidental (Marcuse, Reich, Sartre) para o desafio contemporâneo do fascismo?
Absolutamente essencial. A esquerda não tem uma teoria coerente e poderosa do fascismo, muito menos um meio de combatê-lo politicamente. O trabalho de Reich chamou a atenção para as sinergias entre autoritarismo e apoio aos movimentos fascistas, localizando-os tanto no nível psicológico quanto cultural e vendo-os como estruturas essencialmente inertes (formas do que Sartre chamaria de “prático-inerte”). Hoje, na Índia, pode-se ver como massas de jovens desenraizados, que foram totalmente ignorados pelos partidos de esquerda, gravitam cada vez mais em torno da extrema-direita. A cultura que os informa está repleta das idéias e formas de comportamento mais violentas e autoritárias (casta, sexismo, comunalismo) e de uma dose massiva de repressão sexual que distorce a vida da juventude, de homens e mulheres. A obra de Sartre nos fornece os meios para analisar os modos de dominação que agem na ascensão do fascismo e seu poderoso controle sobre as “massas”. A dominação das massas é a base de todo regime fascista, mas a teoria marxista mal começou a analisar como ela funciona e como pode ser rompida.
Qual é o papel estratégico da teoria na esquerda hoje (na Índia e talvez em outros lugares, na Europa)?
A teoria é fundamental, indispensável, mas ela não cairá do céu. Ele só poderá florescer quando uma nova cultura política e um novo movimento surgirem à esquerda da esquerda, dando-lhe a oportunidade de se renovar (abandonar o escolasticismo, a estratificação acadêmica, o empobrecimento dogmático, etc.). Uma esquerda que não leva a teoria suficientemente a sério, que não se imbui dela ao expandir suas fronteiras, será, ao contrário, incapaz de fazer nascer uma cultura e um movimento revolucionário de um novo tipo. Cada um dos dois aspectos (a renovação da esquerda e a da teoria) envolve um ao outro – e, entre eles, coloca-se o problema da “estratégia”. Mas a esquerda radical não será capaz de se recompor por um simples voluntarismo. A condição fundamental para que ela avance e se torne uma força em escala global está no surgimento de novas classes trabalhadoras e no fato de que novas camadas da classe trabalhadora se conscientizem de seu poder coletivo, o que significa ser uma classe social que aspira a transformar a sociedade. O capital fez o que pôde para impedir que essa condição se materializasse, tendo aprendido com o pós-guerra e as lutas desse período (até o final dos anos 60) como o malthusianismo que Sartre descreveu na Crítica da razão dialética (sobre a burguesia francesa do período entre guerras) era de fato sua melhor opção, mesmo que isso significasse quebrar os estados de bem-estar, romper o contrato social e atomizar a produção a tal ponto que as economias de escala desapareceram. A classe trabalhadora que Marx descreveu n’O Capital existe, mas ela é muito menos potente e concentrada hoje do que nos tempos de Marx. O otimismo do Manifesto Comunista repousa no fato de que o capital não desempenha nenhum papel na configuração da produção conforme seus próprios interesses, ou seja, para evitar o confronto com uma classe trabalhadora unificada por locais de trabalho. Portanto, se a produção permanece central para as estratégias da esquerda radical, é por aí que devemos começar. Que formas devem assumir os “sindicatos” de amanhã? Como os desempregados participarão de um movimento organizado? Como organizar a solidariedade quando a massa de assalariados está tão fragmentada e dividida?
Notas
[1] Serge Mallet, La nouvelle classe ouvrière, Paris, éditions du Seuil, 1963.
[2] Pierre Naville, Le nouveau Léviathan, 1957-1989, 6 volumes ; Alain Touraine, La société post-industrielle. Naissance d’une société, Paris, Denoël, 1969.
[3] Conferência disponível em Jairus Banaji, “Seasons of Self-Delusion: Opium, Capitalism and Financial Markets (2012 Deutscher Memorial Lecture)”, Historical Materialism, vol. 21, n° 2, p. 3-19
[4] Karl Marx, Œuvres II, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1968, p. 1552-1555.
[5] Sobre essa metáfora pasoliniana ver Georges Didi-Huberman, La Survivance des lucioles, Paris, éditions de Minuit, 2009.